.png)
sex toys
Caio Araujo
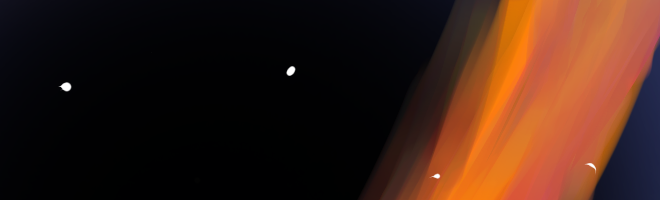
Nicolas ansiava pelo momento, embora não houvesse nada de especial. Vinha adiando-o por receio de espantá-los e ficar mais uma vez a sós com seus demônios. Era o dia 13 de abril de 2021, uma terça-feira. O tempo estava nublado, mas não chovia, como numa película de Woody Allen. Tinha passado o dia matutando sobre como iniciar a trama. Esboçou estrofes desconexas num pedaço de guardanapo, algumas das quais, iniciadas por reticências, enalteciam o cinismo e a objetificação do ser, num desejo latente de quem, quando convém, abre mão de usar para ser usado.
A peça terminou às vinte em ponto e em quinze minutos a sala estava vazia. Chegou em casa às vinte e uma. Cumprimentou a avó demente, dona Francisca, quem o criou desde os doze anos e agora, vinte e três depois, ele se vê na obrigação de retribuir o cuidado, apesar de ela nem sempre ter sido uma boa mãe. Tomou banho. Esquentou a sopa de ervilha, tomou duas cumbucas e serviu a avó, que dispensou o babador. Insistiu para que tomasse a Galantamina e os antidepressivos e conferiu se ela havia feito ao menos uma linha da palavra cruzada de nível médio além das que ele a ajudara a preencher anteontem e, pasmem, ela havia feito cinco, quatro abreviações e uma memória afetiva.
Meia-hora depois, finalmente, trancou-se na redoma. Puxou devagar o baú embaixo da cama, com cuidado para não fazer barulho. Pegou a chave escondida entre as meias na segunda gaveta do armário. Apagou a luz do teto e acendeu a do abajur, lançando luz sobre uma pilha de Goffman, cujas leituras inconclusas aguardavam sem pressa novas representações do seu eu malvado.
Destravou o baú e não precisou revirar - eles o encaravam com o mesmo olhar triste de dez anos atrás. Pegou-os pelas mãos, conduziu-os ao colo, Gabriel e Clarice, e os posicionou cada qual em uma coxa, depois de se acomodar no futon estampado de orquídeas amarelas e ter fechado as persianas, deixando, todavia, um vão entre as elas, como que desejasse uma plateia oculta. Ficou a fitá-los calado e sentiu falta de um Marvin Gaye de fundo, só nesta situação. Cogitou recomeçar tudo de novo, mas desistiu com receio de que na segunda vez perdesse a graça. Desejava agora não pensar em nada, não alucinar, não se alienar, refugiar-se no seu melodrama sádico. Uma trégua no pensar modelado. Um pouco de desgoverno. Mais ação que expressão. Suplica o agir espontâneo, impulsivo. Um pouco mais de física na história, senhor. Rasgar o roteiro. E agir. Fazer e não frear. Antes que o pensar o trave de novo.
Irrompe, então, o silêncio num tom que alterna leniência e cólera, incutindo a discussão sobre os limites da possessividade numa relação bigâmica no auge da pandemia. Em suas mãos, amantes secretos de pano, tão reais. Capazes de exprimir dor e ternura, de chorar e gemer, rir e caçoar, trair e perdoar, ferir e humilhar. Tudo parece ser tão banal, como os atores, que a própria narrativa que se pretende fantástica, ao fracassar, não é sequer digna de vaias. Não. É o silêncio que rege o espetáculo da vida feita de terças-feiras e bilheterias vazias.
A obsessão pela originalidade narcísica decora o tablado. Atrás das coxias esconde-se o plágio: tinta e óleo de Caravaggio, retrato pendurado do ser obsesso por versões fabulosas de si, alter egos que ajudam a suportar o fardo da medianidade. Fragmentos a compor um todo miraculoso em cujo centro vagueia a mente deslumbrada. A única surpresa, espiada pelas persianas da auto-análise, é a persistência da intimidade casta, essa fortaleza impenetrável, na satisfação de taras ordinárias, subterfúgio da misantropia agônica. As desconstruções avançam e os rótulos caem, embora outras máscaras subam, mas a paixão reificada, essa aqui dos meus brinquedos eróticos, permanece confinada ao íntimo sagrado. Por quê? Do que se esconde? Nas feiras de cosplay não tive coragem de abordar minhas almas gêmeas nem opostas. Preciso delas distantes para que continuem a me excitar. Eu preciso, ele precisa. Somos dois desiguais incompletos. Sei o quanto dele há em mim e por que preciso que exista para que eu consiga acordar.
Fantasias preenchem hiatos e sublimam a cena banal. Fantasiar, querer e não realizar; para que existam fantasias, do que elas se nutrem: insatisfação. Renova-se o ciclo imaginário. Renovam-se os sonhos acordados, turbinados por estímulos intangíveis, excitação mágica e selves oníricos que, sacudidos aos berros, despertam o eu-centrado, discreto, enfadonho, reprimido, do qual precisa tanto se livrar. O realismo mágico sai dos contos premiados e invade o cotidiano material, preso ao calendário e solto em devaneios sem rédea, ali onde podem se travestir de vida real.
A aparência revela um personagem que em nome da modéstia prefere a coadjuvância. Quis ser diplomata, depois dramaturgo e agora teve que se contentar com a bilheteria do teatro, de cujas vendas obtém um centésimo percentual para pagar as contas e sobreviver ao calendário, porque amanhã não há espetáculo, porque sobram ingressos e porque faltam-lhe talento e criatividade. Houve um tempo em que se gabava pela prodigalidade, em que reputava o ciúmes uma doença e a monogamia, propriedade. E agora, diante de seus fantoches, quer matar o autoengano, quando vê brotar no peito o germe do mal que o atormenta. Começou com a autoconfiança vaidosa. Abriu as portas à aventura, convidando terceiros ao ciclo que, contra a sua vontade, fecha-se aos poucos. Introduziu-os como ventríloquos acanhados, dependente do risco da perda para afagar a incitação. Foi a amante elogiar o sarcasmo alheio, tal como elogiara o seu, depois de tantos atos banais, para sentir arder a glosa que atinge seu escudo moral, o desprendimento.
"Isso não é uma sessão de psicanálise", berrou, encarando Clarice e apertando-a com volúpia. "Pior!", exclamou, desviando o olhar para Gabriel, "você não é terapeuta; você é bilheteiro. Pare de sonhar. Pare de fugir da realidade. Pare de criar personagens. Pare de representar. Derrube a fachada. Desoprima a culpa. Caia a máscara da vergonha!", gritou, agarrando seu cabelo, chacoalhando a cabeça e estapeando o rosto. Reprisou mais uma vez a cena do Clube da Luta e praguejou contra a ficção alienante, implorando por um recuo à realidade. Depois, numa sequência de atos impensados, esganou os amantes, pisoteou-os e os despedaçou com uma fúria carnal. Arrependeu-se por não ter sido mais paciente, por não ter estendido o momento, por não ter se deliciado com o drama. Mortos, escalpelou-os com a calma que não tivera um minuto atrás. Esfolou-os com as unhas roídas, sangrou. Deu vazão a necrofilia antes que a autocontenção se restabelecesse. Mastigou as cutículas de isopor e cuspiu-as no ar. Deitou-se ao chão junto aos restos do ego e nadou feito uma criança adulta, esparramando-se pelo palco da dor; e, por fim, admirando o estrago, soltou uma gargalhada forçada só interrompida pelo choro incontido da autopiedade ridícula, imagem que, esta sim, Nicolas considerou ser digna de vaias.

